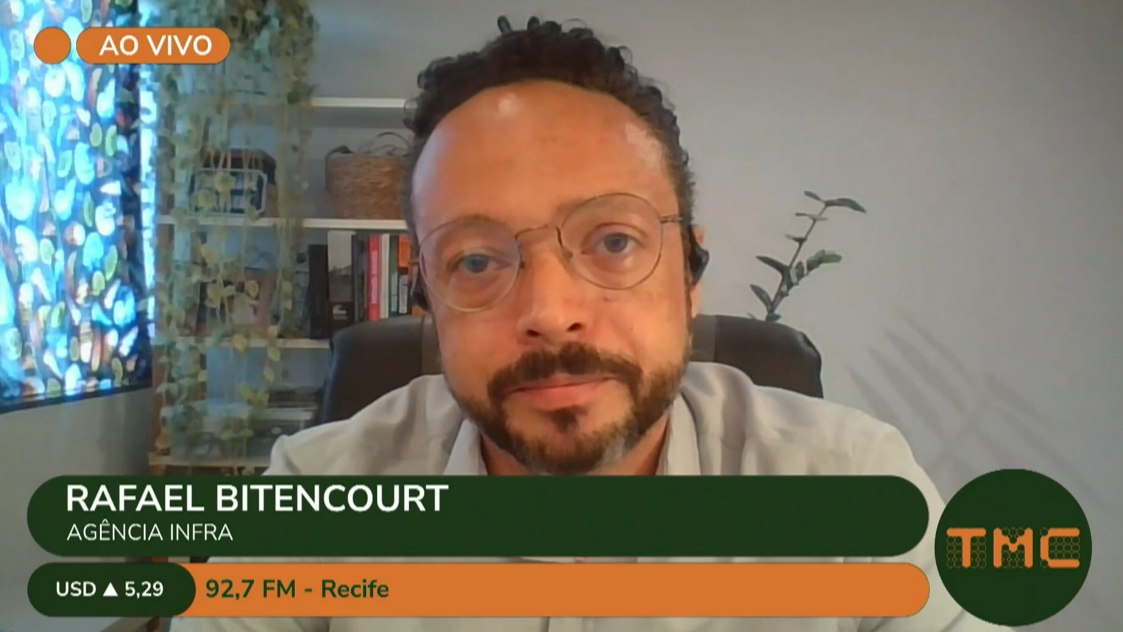Luiz Afonso dos Santos Senna*
Sou um entusiasta das agências reguladoras, já tendo sido dirigente em agência federal, estadual e de órgão municipal com tarefas regulatórias. Tenho repetido, como se um mantra fosse, que infraestrutura é a base sobre a qual a economia acontece, funcionando como rede e tendo como pressupostos os clássicos conceitos de economia de escala, escopo e integridade da rede.
Quem, como eu, acompanha diariamente as informações providas pela Agência iNFRA, deve ficar impressionado com a quantidade de novas normas produzidas pelas diversas agências reguladoras do país. Por um lado, tal fato pode estar evidenciando o elevado nível de trabalho das agências, porém por outro pode estar a indicando movimentos espasmódicos. A economia nos ensina que existe um tamanho ótimo para tudo e devemos estar sempre atentos para não produzir aquém nem tampouco além do necessário e desejável. A palavra central é equilíbrio.
O Brasil tem feito avanços importantes no provimento de infraestrutura. Nos vários setores foram concedidos ativos que até então eram ofertados diretamente pelo estado, e que sofriam com a falta de regularidade, escassez de investimento e manutenção precária.
A crescente participação privada no provimento de infraestrutura, por meio de privatizações, concessões e PPPs (parcerias público-privadas). As concessões são as formas mais comuns e ocorrem através de licitações e são contratos entre a administração pública e uma SPE (sociedade de propósito específico). Estas operam em seu próprio nome, por sua conta e risco, durante prazo pré-determinado, normalmente remuneradas por uma tarifa. Com arranjos financeiros complexos (project finance), os investidores decidem com base na capacidade de geração de recursos do projeto para garantir a remuneração de seu capital. Trata-se da gestão de um fluxo de caixa com deveres (investimentos, manutenção e operação do ativo público em níveis de qualidade pré-fixados) e direitos (tarifa), com base em um ambiente regulatório estável e uma matriz de risos adequadamente estabelecida. O período do contrato supera os períodos de governos (sete governos, em um contrato de 30 anos). A preocupação primordial é com garantias e proteções contra os riscos a que estarão sujeitos os participantes, que podem influenciar o sucesso de um projeto.
Com vistas a assegurar a estabilidade no cumprimento dos contratos, independentemente do governo de plantão, foram criadas as agências reguladoras. Tal ocorreu nos níveis federal, estadual e em alguns casos intermunicipal e municipal.
A ocorrência de oscilações macro e microeconômicas obviamente influencia as decisões políticas e econômicas, o que também afeta o ambiente regulatório.
Tendo por base esse quadro geral e já decorridas algumas décadas desde a criação do modelo, algumas questões centrais precisam ser endereçadas, tais como: a regulação efetivamente materializa a intenção econômica de estabilidade nas relações contratuais? A lei, seus operadores e intérpretes, assim como os reguladores estão realmente equidistantes das várias partes interessadas para viabilizar economicamente a infraestrutura do país no curto, médio e longo prazo? Os investidores estão confortáveis?.
As respostas para essas questões passam necessariamente por questões contratuais em que segurança jurídica e regulação precisam ser vistas de uma forma ao mesmo tempo holística e pragmática. Sob o ponto de vista do investidor, segurança jurídica significa trabalhar tão somente com os riscos assumidos, materializados nos contratos. Nesse sentido, quanto mais estável for o ambiente político, regulatório e jurídico, maior a disponibilidade do investidor de participar do esforço de prover infraestrutura em parceria com o Estado. Em caso contrário, a instabilidade política, a inconstância jurídica e a fragilidade regulatória conduzem à precificação em níveis mais elevados e até mesmo à não participação.
As normas produzidas pelas agências reguladoras não podem ir além ou contra a lei que as legitimam, sob pena de ferir o princípio constitucional da legalidade. O crescente número de normas atinge o mercado que regulam, criam direitos e obrigações para os entes regulados e, por vezes, inovam em matéria de direito. Por isso, é fundamental para a sociedade em geral saber com clareza os limites e até onde uma agência reguladora pode e deve estender seu poder normativo sem ferir o princípio constitucional da legalidade e sem usurpar a função legislativa do poder competente.
O professor Almiro do Couto e Silva[i] destaca que segurança jurídica é um conceito ou um princípio jurídico que contempla duas partes, uma de natureza objetiva e outra subjetiva. A parte de natureza objetiva envolve questões relacionadas aos limites à retroatividade dos atos de estado até mesmo quando estes se qualifiquem como atos legislativos. Refere-se à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. A parte subjetiva refere-se à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.
Mais recentemente tem sido admitida a existência de dois princípios: da segurança jurídica e da proteção à confiança. A segurança jurídica é quando designam o que prestigia o aspecto da estabilidade das relações jurídicas. A proteção à confiança é que aludem ao que atenta o aspecto subjetivo. Esse princípio, por sua vez, impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta e de modificar atos que produziriam vantagens para os destinatários, mesmo quando ilegais. Também lhes atribui consequências patrimoniais por essas alterações, sempre em virtude da crença gerada nos benefícios administrativos ou na sociedade em geral de que aqueles atos eram legítimos, tudo fazendo supor que seriam mantidos.
Obviamente, a segurança jurídica e a proteção à confiança não podem ser valores absolutos, no sentido de se constituir em meras formas de manter o status quo, mantendo o futuro refém do passado. As mudanças de interesse público devem ser contempladas, porém não é razoável que o Estado adote permanentemente novas posturas que contradigam suas decisões anteriores, surpreendendo, como diz Couto e Silva, “os que acreditaram nos atos do Poder Público”.
Depois de um certo entusiasmo por parte de alguns agentes, é extremamente bem-vinda a observação que a chamada regulação responsiva arrefeceu. Trata-se da discussão sobre regulação, que passou a incluir de forma insistente a regulação responsiva, que supostamente visava a busca de uma atuação mais efetiva e de melhores índices de conformidade regulatória por parte das agências reguladoras. A regulação responsiva seria uma alternativa ao modelo regulatório baseado essencialmente em punições, conhecido como “comando e controle”. Segundo os defensores da ideia, o comando e controle, quando utilizado de forma exclusiva, encontraria limitações, já que não existem incentivos para que o regulado cumpra voluntariamente os requisitos postos pelo regulador. Além disso, as multas, as suspensões e as cassações tenderiam a ser excessivamente pesadas, tanto para o regulador quanto para o regulado que demostraria um histórico de colaboração e comprometimento com os objetivos regulatórios.
Ainda sob o ponto de vista dos defensores da regulação responsiva, a adoção exclusiva de ferramentas de comando e controle podem gerar diversos problemas, como normativos demasiadamente prescritivos, elevado volume de processos sancionadores e de custos administrativos, pouca liberdade do regulador frente à diversidade de comportamentos dos regulados e baixa efetividade das sanções aplicadas. Em consequência disso, cada vez mais os reguladores, dos mais diversos setores, estariam migrando para um modelo de regulação responsiva. De certa forma, a regulação responsiva seria um conjunto de normas para descaracterizar as normas anteriores e os contratos e introduzindo fortes elementos discricionários.
O fato a ser considerado é que a quantidade de normas sendo produzidas pelas várias agências reguladoras, em todos os níveis, acaba gerando uma teia não necessariamente encadeada e inteligente de regramentos. Trata-se de quantidades de normas que superam as produções legislativas, e que podem facilmente (e perigosamente) adentrar a seara da divisão de riscos previamente definida. Se forem somadas às várias leis sendo produzidas o quadro fica extremamente complexo, gerando confusões que servem a poucos.
Obviamente, os editais de licitação e os contratos das concessões devem ser absolutamente claros no que tange às metas e indicadores a serem observados ao longo da vigência do contrato, e as penalidades em caso de não cumprimento também estão lá definidas. Se o contrato for plenamente observado e executado, inexistem razões para a aplicação de penalidades; estas somente são acionadas em caso de descumprimento por parte do concessionário.
Não há razões para alegar desconhecimento que levam ao não cumprimento das metas e indicadores. Ao chamar a iniciativa privada para participar do provimento de infraestrutura, o estado busca preencher duas características principais: capacidade financeira para prover capex e opex, que inclui também elementos como equity, project finance, debêntures, stock options, enfim composições e arranjos financeiros vários; e capacidade de gestão, em que inexiste qualquer dúvida sobre o setor privado ser mais eficiente do que o setor público.
Por outro lado, ao abrir a possibilidade de que multas e demais penalidades possam ser negociadas, estar-se-á abrindo a possibilidade de discricionariedade por parte das agências. Observe-se que, tanto nos casos de regulação quanto na segurança regulatória, aspectos como governança, accountability e transparência constituem-se em itens fundamentais. A ideia fundamental na criação das agências foi eliminar a discricionaridade. Trata-se, de fato, da necessidade de redução de casos em que a autoridade que o pratica possui certa iniciativa pessoal no que se refere à conveniência e oportunidade. Em outras palavras, deve ser minimizada a possibilidade que para casos similares existam sentenças diferentes. O poder discricionário deve ser evitado ou reduzido a níveis mínimos, o que é embasado por uma frase célebre de Rui Barbosa: “Não há outro meio de atalhar o arbítrio, senão dar contornos definidos e inequívocos à condição que o limita.”
A discussão sobre regulação responsiva corrobora o fato que o Brasil está presenciando um aumento no número de normas, que em algum momento será prejudicial (se já não o é) ao ambiente regulatório e, por consequência, à sustentabilidade das concessões no país.
As agências precisam ser regidas por regramentos claros, transparentes, inequívocos e estáveis. A discricionariedade, assim como o número elevado de normas, no nível em que está sendo observado, fragiliza a previsibilidade, a transparência e a independência, itens fundamentais para uma agência que faça jus a esse nome.
No Brasil contemporâneo têm-se falado muito em inovação disruptiva. O cuidado que se deve ter é que, na ânsia de inovar, ser disruptivo e resolver problemas pontuais, não se acabe criando uma teia normativa inconsistente e desconexa. Os avanços reais são incrementais e não necessariamente disruptivos.
Uma overdose regulatória, por si, materializa indesejáveis riscos regulatórios.
[i] Couto e Silva, Almiro do. (2003). O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do Art. 54. da Lei do Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista da Procuradoria-Geral do Estado, Porto Alegre, volume 27, nº 57.
*Luiz Afonso dos Santos Senna é pós-doutor em Oxford e professor titular da Escola de Engenharia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Foi diretor da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), secretário de Transportes de Porto Alegre e conselheiro-presidente da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul).
As opiniões dos autores não refletem necessariamente o pensamento da Agência iNFRA, sendo de total responsabilidade do autor as informações, juízos de valor e conceitos descritos no texto.